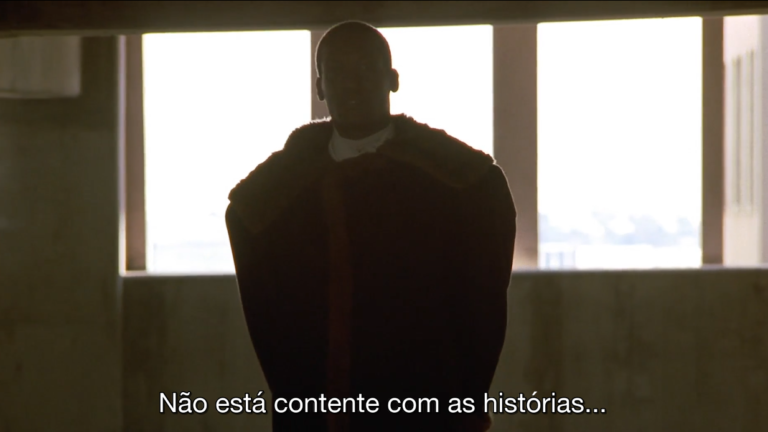No filme Candyman (1992), dirigido do Bernard Rose e baseado em um conto de Clive Barker (The Forbidden), Helen e Bernadete são pós-graduandas a pesquisar a lenda urbana do Candyman, afim de escreverem um artigo. Como universitárias não tão experientes, estão muito animadas com a perspectiva da futura publicação, tendo expectativas exageradas. Helen chega a pedir ao marido, professor também da área da antropologia, que não tratasse do assunto em suas aulas. Ele parece saber que dificilmente a publicação terá realmente um impacto, e que, de qualquer modo, abordar ou não lendas urbanas no curso não afetará relevantemente qualquer resultado posterior. Ademais, quando seu colega, que já estudou a mesma lenda, diz que pode ajudar o duo, elas respondem na negativa, sonhando com a glória da originalidade, quando a realidade é que dificilmente se faz um trabalho que não seja construído a partir de outro e que some ao assunto, ao invés de se impor como único e especial.
Esse aspecto é interessante, porque essa fantasia do paper de sucesso leva Helen a agir como se estivesse a fazer a coisa mais importante do mundo. Agir dessa forma é efetivamente valorizar aquilo como a coisa mais importante, para Helen, naquele momento. E isso lhe fornece a obstinação necessária para convencer Bernadete a ir com ela ao bairro negro marginalizado, terra sem lei, fruto do racismo estado-unidense, institucionalizado em um programa de moradia desastroso, onde os cidadães dizem de fato acreditar na existência de Candyman, o assassino fantasma. As universitáris vão então vestidas de policiais (ou seja, de inimigos), afim de investigar amadoristicamente um assassinato atribuído ao ente maligno, ocorrido em um dos conjuntos habitacionais de lá.
É uma ideia um pouco conflitante, mas o que pude entender disso é: Helen está interessada em dar alguma ligação real e atual ao assunto estudado, mostrando com as fotos e com a autoridade de quem fez pesquisa de campo (de quem viu in loco), que se trata de uma lenda urbana momentosa. Os argumentos em volta da mesma estão encaminhados. Não é o caso de realmente lidar com a superstição dos moradores locais, provavelmente ligada à violência da região, escolaridade baixa e pobreza, e interpretá-la detalhadamente, de um ponto de vista racional-antropológico. É claro que Helen e Bernardete, que habitam círculos da classe média culta, não acreditam na existência de Candyman senão como lenda urbana. Mas em um primeiro momento, seu objetivo tampouco é o de desvendar o como se utilizado por aquelas pessoas. Candyman é o nome que se atribui à impunidade dupla, impunidade quanto aos assassinos em um lugar socialmente turbulento, e quanto ao corpo policial, que segue políticas de segregação (talvez implícitas) que misturam racismo e aporofobia (“ódio aos pobres”). Candyman ocupa a figura do ninguém: alguém que nem a polícia poderia ir atrás, e que portanto não pode ser punido pela sociedade. Ele aparece como uma vingança negativa, que não pode ter outro objeto senão o próprio povo vingado; é uma força destruidora interna a uma comunidade sem perspectivas. Ele envolve a falta de perspectiva em um mito fatalista: os homicídios continuarão, e continuarão impunes.
Talvez Helen e Bernardete quisessem conciliar essa colocação do problema com outra versão da lenda, a qual diz que se alguém pronunciar cinco vezes seguidas “Candyman” em frente a um espelho, acaba por invocá-lo, provocando um ritual sacrificial suicida. Os jovens casais, afim de infundir uma fissura de valentia, uma agitação de curiosidade ambivalente, quiçá explorar os impulsos de morte, em meio às preliminares sexuais, o fazem. Porque, por um lado, ao agirem como se fosse verdade, obtém o adicional emocional que procuram. Por outro, não deixam de, como bônus, acionar seus próprios lados supersticiosos que, fornecendo um reforço de crença, intensificam o resultado. Por isso o correto é sempre pronunciar quatro vezes e tremer ante a possibilidade de pronunciar a quinta, dando sequência ao jogo de sedução.
Mas a conciliação acontece fora da esfera argumentativa: os fios soltos na narrativa vão sendo costurados associativamente, e ao examinar o banheiro de seu apartamento, Helen descobre uma possível explicação para assassinatos ocorrendo através do espelho, por uma falha arquitetônica e um fundo falso de um apartamento a outro. Descobre também a incrível coincidência: seu apartamento e o apartamento no qual o crime atribuído a Candyman ocorreu no gueto, compartilham a mesma planta, planejada erroneamente da mesma maneira, um sendo um protótipo do outro. E é essa incrível coincidência que a reforça a necessidade de visitar o local do crime.

Acontece, claro, que estamos vendo um filme de horror. E no universo ficcional onde uma narrativa desta ocorre, tudo se aparenta com nosso mundo real, exceto que o impossível, por ser muito improvável, deve acontecer. Não apenas Candyman existe, como Helen vê os elementos eroteticos de sua narrativa progressivamente acumularem-se até que a única resposta assuma o poder de uma fatalidade inescapável. Isto é, antes ela obtinha respostas teóricas às suas buscas intelectuais e elos meramente associativos entre suas descobertas, alimentando assim sua fantasia de produzir um artigo impactante. Mas, por que se contentar com tão pueril conquista, quando será possível realmente fazer parte de um acontecimento impactante, um que efetivamente tornaria as teorias de seu marido e do amigo de seu marido erradas e que a lançaria para a fama, e quiçá a glória?
Se Helen não acredita em Candyman, mas acredita na impossibilidade total do impossível; se ela não acredita na cultura na qual é dito que ele existe, então ele apresentar-se-á a ela pedindo que esta seja sua vítima. É que para o próprio fantasma a crença forte de Helen é um problema, ainda mais por se tratar de crença dupla. Primeiro, ela crê que Candyman não existe. Depois, ela crê que seu artigo com Bernardete será impactante, mostrando como Candyman não existe como entidade, mas sim como subterfúgio, superstição, ficção ou emaranhado socio-cultural. E como as boas entidades infernais, Candyman leva a sério a crença dos outros. Ele mesmo passa a crer no poder da ação insignificante de Helen. Ele acaba por crer que, de fato, a comunidade passará a não mais acreditar nele. E crê que se deixarem de acreditar, ele mesmo deixará de existir.
Tudo isso parece um roteiro descomplicado, mas existe algo muito sagaz aqui. A diferença entre a ontologia, isto é, o discurso sobre a natureza do ser, que diz respeito a uma concepção do que existe/é, e o próprio ser, isto é, a forma de ser ou o modo de ser, que diz respeito ao que existe/é. Pois para Candyman, essas duas coisas se confundem. Possuir uma visão de mundo em que ele existe implica na existência dele, não havendo possível disparidade entre concepção e realidade, dado que faz parte da sua natureza existir se concebido, um pouco como quando olhamos o argumento ontológico de São Anselmo sobre a existência de Deus sob uma certa distância: Deus existiria por possuir a propriedade da existência; mas ele possui essa propriedade, porque as pessoas acreditam em sua existência. Para Candyman, então, existir é ser parte de um discurso que se pretende veraz. Deixar de ser parte do discurso ou integra-lo como falsidade é deixar de efetivamente existir. Do ponto de vista dos moradores marginalizados, Candyman existe porque ele é alvo de um discurso sobre o ser que admite sua existência. E ter um ponto de vista, no caso de Candyman, é habitar uma realidade em que ele existe. E em que ele é também alvo desse discurso porque efetivamente mata e violenta pessoas e animais.
Inicialmente, para Helen, uma cidadã educada dentro de uma concepção materialista da realidade, não há como aceitar um tal perspectivismo. Claramente Candyman não existe. Mas então, ele não deveria aparecer para ela. Aqui, é importante lembrar: sua visita ao local do crime, sua ansiedade em conseguir material para o artigo, sua empolgação desmesurada com o assunto, pode muito bem tê-la imbuída de um início de crença, de uma vontade subterrânea de existência, de um impulso inconsciente rumo ao acontecimento maior que a existência de Candyman provaria. Ela, por ter visitado aquele mundo negro marginalizado, ao contrário da sua amiga negra Bernardete, que quer acima de tudo se separar do gueto, foi contaminada e torna-se justamente o elemento da passagem entre dois mundos. E ela se torna porque então passa a cumprir a função primordialmente antropológica, do ponto de vista desse perspectivismo Barkeriano: ela faz comunicar não apenas duas concepções do que é a realidade, mas passa a poder comunicar duas realidades distintas – uma em que Candyman não existe e outra em que ele existe. Ou é o que ela faria caso tivesse optado pelo caminho da mártir.
Quando, entretanto, Helen se recusa a morrer, ela luta com sua crescente crença em Candyman e nega esta realidade como a de um construto, uma alucinação. Como resultado, ela externaliza essa tensão, sendo engolida pela perspectiva dos crentes em Candyman, passando a habitar contra sua vontade a mesma realidade que estes, e tornando essa realidade vivida por ela incompreensível e incomunicável a todos os seus antigos companheiros do mundo da sociedade educada. Ela passa a ter o ponto de vista dos negros marginalizados de Cabrini-Green e presenciar os assassinatos perpetrados por Candyman. Mas esse ponto de vista se fecha para Bernardete, a polícia e por fim seu marido: a realidade deles envolve não acreditar na existência de Candyman, e tratar sua aparição como uma ilusão demente de Helen, que então aparece como uma mulher em surto psicótico-homicida grave. Como Candyman está envolvido, a incomunicabilidade de visões de mundo é efetivamente incompossibilidade de realidades.
A pergunta aí seria como conciliar as duas coisas. Não existiria uma única realidade, um único mundo real, por trás de tudo? Helen passa a ser a protagonista de uma narrativa sanguinolenta fantástica – uma para qual existe tanto uma explicação naturalista quanto uma explicação que apela ao sobrenatural. Mas será que não haveria a possibilidade de uma realidade na qual fosse possível testar os dois discursos, investigar as posições, e checar os resultados? Onde fosse possível que uns, além de entender que os outros têm uma perspectiva, possam considerar que eles falam efetivamente de uma realidade real, porque também acessível além-cultura (o que às vezes também pode ser dito “além-natura”). Onde estes possam, por exemplo, considerar que existe alguma possibilidade de que o impossível ocorra, e de que Helen tenha conjurado um demônio sanguinolento?
A solução, nós que vimos o filme, a sabemos: será preciso restituir o ciclo ao seu primeiro estado. O marido de Helen, mesmo já tendo começado outro ciclo amoroso, o intui. Seu luto passa por desfazer o absurdo da morte trágica de sua mulher, e de todo o sangue derramado que lhe precedeu. A lenda precisa continuar. Porque, por menos superticiosos que somos, partilhamos uma realidade que tem como propriedade nunca ser englobada inteiramente por uma teoria ou discurso. E isso significa que existirá sempre a possibilidade de que o impossível improvável ecloda. Restando apenas postar-se diante do espelho e repetir cinco vezes… Helen.
***
Escrevi esse texto a partir de uns comentários do Walter Menon, que anda ministrando a disciplina de filosofia do horror na UFMG, e com duas referências bibliográficas em mente. Caso queiram ir atrás, são: 1. Noël Carroll: A filosofia do horror ou os paradoxos do coração. 2. David Graeber: Alteridade radical é só outra forma de dizer “realidade”: resposta a Viveiros de Castro.