Eu não conheço as opiniões de Michael Haneke sobre a relação entre violência, violência na ficção e o público, mas é suficiente ver o seu filme Funny Games para supor que ele tenha o que dizer. Pois o filme introduz as quebras de quarta parede, a piscadela e as falas de Paul endereçadas ao espectador, com um objetivo didático: mostrar ao público que ele não deve interpretar aquilo como alguém que vê um filme de terror, ou um filme de violência gratuita, mas como algo que fala sobre assistir violência, ser público de ficções violentas. E aí que, ao meu ver, ambiguidades interessantes aparecem.
Suponhamos, de modo ingênuo, primeiro, que qualquer pessoa saiba que na vida real, violência é acompanhada de medo, trauma, paralisia, pânico, náusea e outras sensações desagradáveis. Mesmo nas artes marciais, quanto esforço não é despendido para inculcar nos praticantes a auto-limitação que garante a preservação da segurança e da sanidade? Suponhamos também que nós tenhamos ouvido falar dos pesadelos crônicos e assustadores daqueles que, não tendo um raro nível alto de psicopatia, tenham matado, sejam estes policiais ou bandidos. E a tendência dos homicidas a ter um comportamento reclusão social e restrição à círculos sociais de seus pares homicidas.
Pois bem, então, sabendo disso, dificilmente procuraríamos gratificação na ficção advinda de um tratamento realista da violência. Porque as emoções e sentimentos que teríamos tomariam por modelo o que as vítimas sofrem, como receptáculos da violência, ou então o desassossego, a vertigem, exaspero e demência dos que a perpetram. Isso não nos impediria de ver filmes com violência realista, entretanto. Mas não estaríamos, como num filme de terror, que claro, possui violência de outro tipo, a buscar uma emoção (a emoção de arte-horror que monstros proporcionam, por exemplo, segundo Nöel Carroll em A Filosofia do Horror). Ou se estivermos, talvez seja por alimentarmos estranhamente um distúrbio sádico ou autodestrutivo, e nossos colegas poderiam muito bem nos desaconselhar ou tentar nos impedir de tal indulgência. O que acontece é que o filme em questão pode usar elementos de violência realista para mostrar outra coisa, para abordar algo, para tematizar um problema.
Certamente é o que Brincadeiras Perigosas faz. Mas, e aí está a questão, ele o faz ao tematizar o tratamento realista da violência, dentro do âmbito da ficção. Agora, o que eu acho ambíguo nisso é o seguinte: não somos sádicos ou masoquistas; a violência que gostamos de assistir é de outro tipo. É uma violência tratada de modo não-realistada da qual extraímos emoções e sentimentos catárticos, ou de medo modulado, ou exaltação abjurada, ou de asco e náusea sobrenatural e demasiado extremo para integrarmos, para a qual sorrimos ou nos divertimos, ou vibramos junto. É violência construída a partir de mundos ficcionais em que é possível dar e levar socos sorrindo, ou em que a morte é vista com distanciamento, ou que é heróico assassinar etc. Portanto, o tom de crítica à atitude do espectador parece errar o alvo. Ou então parece implicar um segundo mal-estar: imputar a nós um desejo sadista. E porque ele o faria?
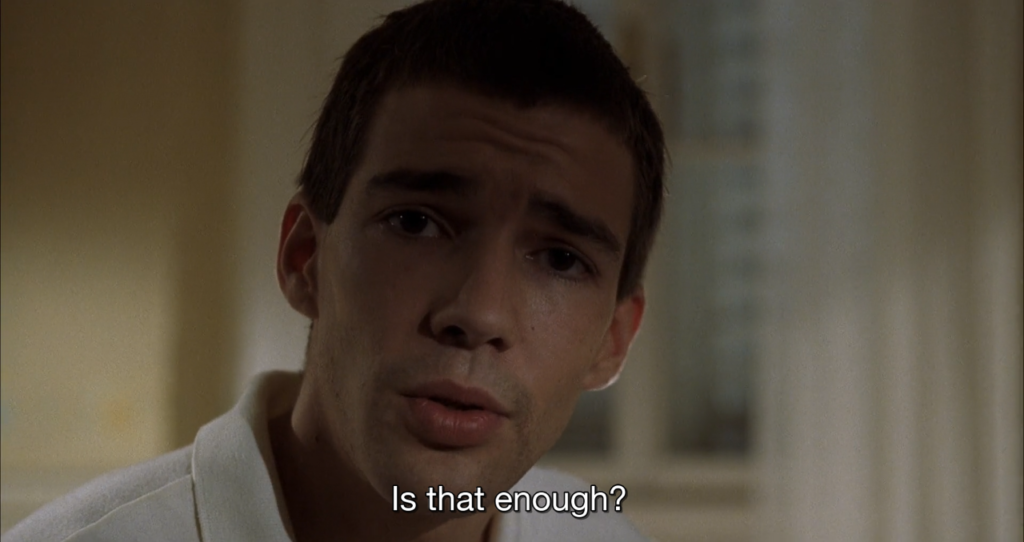
Ele pode fazê-lo dizendo: é preciso mais realidade no retratar a violência. Existiria algum fundo comum entre a violência retratada e a violência real que deveria justificar a extirpação da glamourização da violência, ou tornar censurável a criação de mundos ficcionais em que a violência é um dado positivo ou em que ela é um dado negativo não traumático. Talvez o diretor dissesse: é ingênuo demais, no caso específico da violência, achar que as pessoas conseguem separar ficção e realidade a ponto de não se tornarem mais violentas na vida cotidiana. Talvez, ao modo de um final funesto como o de Scanner Darkly, do Phillip K. Dick, onde são apresentadas as pessoas que o escritor conhecia que se deram mal usando LSD, ou como o de um didatismo alemanha oriental de Manderley, de Lars Von Trier, onde uma série de fotos nos convida a interpretar o filme à luz do racismo estado-unidense, Brincadeiras Perigosas poderia ter uma versão em que estatísticas de psicologia comportamental fossem mostradas durante os créditos.
Agora, se essas estatísticas fossem apresentadas de fato, e fossem conclusivas, eu provavelmente não gostaria do filme. Porque ele inculcaria em uma pessoa pacata como eu, mas que adora uma boa cena de luta, e eventualmente filmes sanguinolentos como os de Takashi Miiki (mas não sem sentir nojo), o pensamento paranóico de que no fundo, contra meus estados mentais conscientes, eu possa, apesar de não perceber, estar ficando mais apto à agir de forma violenta. E para dissipar essa paranóia, seria necessário adquirir uma série de testes e métricas que pudessem indicar quando uma certa quantidade de exposição pudesse ser considerada inadequada. E com tudo isso feito, toda essa discussão que temos aqui perderia o sentido. E eu estou interessado nessa discussão, justamente. Então, prossigo. Poderíamos também nos confrontars com a problemática platônica da dita “expulsão dos artistas da República”, em que a arte, por estar sob um fundo imitativo-mimético não inteiramento distanciada da realidade, deve responder a limites do que seria aceitável para nossa sociedade. De modo que, seríamos como espectadores aqueles que são indulgentes com as ilusões apresentadas. Podemos nós mesmos, já aptos a desvendá-las, não cair sob seu encanto mimético. Mas e os jovens, os nossos futuros cidadãos da República? É possível que Tom & Jerry seja inadequado para crianças e psicologicamente perturbador em sua violência e deva ser banido, dado seu público alvo. Mas justamente, nesse desenho, estaríamos lidando com uma faixa etária em que, por imaturidade, os critérios de aferição do que é ficcional e real teriam de ser outros. Ademais, o próprio filme não mostra como poderia haver algo comum entre essas duas violências. Porque é claro que um argumento metalinguístico só é próprio para adultos e não para crianças, e também é claro, e o filme acaba por mostrar isso em suas cenas, que o tratamento estético realmente importa e diferencia tipos diferentes de violência. Afinal, é por esse fato que assistimos as cenas com tanta angústia e mal-estar. O possível argumento de que “toda violência no fundo é assim” é desmentido ao olharmos as próprias imagens de violência que o filme comporta. Para nós adultos, com um bom senso de realidade (e então de ficção), é difícil dizer que haveria semelhança entre o cartoon e o filme; isso soaria terrivelmente impreciso, tanto em termos de experiência quanto de julgamento estético.
Quando o personagem Paul fala que no ficcional o real e o ficcional são ambos reais, ele inverte o que gostaríamos de dizer: Que no real, o real do ficcional e o ficcional do ficcional são ambos ficcionais. Os personagens podem tratar fatos de diferentes camadas de verossimilhança e realismo estético todas como reais. Os espectadores por sua vez, tratam até mesmo a estética mais realistas de um filme ficcional como ficção.
Mas se o filme quiser que rejeitemos as investidas de Paul? Que não atendamos estranhos, que saibamos o número de telefone da polícia? Que militemos contra filmes como ele mesmo, que contém cenas de violência realista. Mas não apenas temas que tematizam a violência realista, mas quaisquer filmes que usem de expedientes de violência realista. Confesso que logo após terminar de ver, conferi se sei o número da polícia. E que teria mais reticências a receber estranhos nesse mesmo dia. Ou seja, há algo que passa de um lado ao outro, da ficção ao real. Mas esse algo não diz propriamente respeito à violência em geral. Ela diz respeito a uma transposição da possível situação ao mundo real. Mas para que esta possa ser transposta, é preciso que o filme tenha uma estética realista. Na vida real, eu nunca pensaria em dar golpes de kung fu voando, ou esconder meu livro de invocação dos mortos. E se a questão fosse combater a violência, isso implicaria combater esse próprio filme, não? E não é certo que o resultado de só termos filmes de violência glamourizada fosse bom: por falta de contraste entre os tipos de violência, talvez alguns incautos pudessem começar a confundir uma com a outra.
Há também uma ambiguidade quanto ao caráter realista de Paul e Peter e alguns outros elementos do filme. Eles vestem branco, possivelmente fazendo referência à Laranja Mecânica. Mostrando que eu conheço bem o livro, eu os descreveria como “druguis bratchnis praticantes de ultra-violência horrorshow, dando toltchoks em tcheloveks enquanto smekam smotando króvi escorrendo no chão”. Seus jogos, inclusive, lembram as ilocuções pomposas dos garotos do livro de Anthony Burgess. Sua linguagem é deslocada e não se encaixa nas regras sociais implícitas supostas pela família. A música artificial, o pastiche combinatório de estilos de John Zorn, uma espécie de trash metal jazz experimental pastelão, também traz uma carga de deslocamento. E há diversas outras referências à ficções. A menção a textos religiosos e a cena da prece é nesse caso especial: esse tipo de texto é justamente problemático no sentido de que a reação das pessoas a eles mistura o real e o ficcional. Ainda assim, é interessante: mas qual exatamente a relação desse tipo de mistura com o filme? Creio que justamente estou tentando mostrar que ela é problemática.
Há a cena em que é didaticamente mostrado que num filme é o roteirista quem decide o que vai acontecer, mesmo se a história aparentar realista. A cena em que há alguma esperança de catárse e vingança por parte de Anna, mas na qual “a fita do filme” é rebobinada e a reencenação corrigida afim de garantir o fim plenamente trágico. Trata-se de outro aceno ao público: pensem sobre isso. Mas pensem exatamente sobre o que? Filmes narrativos realistas são roteirizadas, como qualquer outra filme narrativo. O fato da angústia permanecer, mesmo com a quebra da quarta parede significa que os expedientes estéticos realistas funcionam: obtém um resultado emocional específico.





um filme bom pra ver também é o A history of violence, do Cronenberg. 1. a violência está presente e pode se manifestar em qualquer lugar. 2. mostrar a violência não é o mesmo que teorizar a violência. 3. abandonar a retórica sobre não-violência para ultrapassar a violência. de um texto que li sobre cinema e violência do célio garcia, em que ele cita o filme acima. foi bom rever com esse texto. vou fazer o mesmo com o seu/haneke.
Muito bom seu texto, Henrique! Gostei demais! Ri aqui imaginando você tentando lembrar o número da polícia após assistir ao filme. Também não havia me tocado sobre a referência ao Laranja Mecânica que, agora que você apontou, me parece evidente.
Seu texto fez eu pensar em que medida o filme é mesmo uma crítica à violência realista no cinema. Sem dúvida ele o faz em alguma medida, mas será mesmo que o filme é realmente uma crítica a qualquer filme que utilize deste recurso enquanto elemento constitutivo? Tenho dúvidas em relação a essa generalização.
Tendo a pensar que o filme está ancorado na crítica aos slashers que, há epóca, eram muito populares. O mercado estava saturado de filmes deste gênero e não à toa um ano antes sai o Pânico que é basicamente uma crítica aos vícios destes filmes. O que o Haneke faz é algo muito mais poderoso a meu ver: ele coloca em xeque a possibilidade de gostar deste tipo de filme sem sentir um pouquinho de culpa. Eu mesmo gosto de alguns slashers e alguns filmes do New French Extreme, mas, depois de ter visto Funny Games, o gostar desses filmes vem sempre acompanhado desse elemento de culpa. O que não é ruim, diga-se de passagem. Mas é bom lembrar também que Funny Games não tem nenhum cena de violência explícita. Todas as vezes que estes atos são cometidos, a câmera “olha pra outro lado”.
Mas, para além dessa crítica, parece haver outra bem interessante também. A crítica ao naturalismo hollywoodiano. Eu sei que dez anos depois ele lança outro Funny Games justamente na indústria de Hollywood, mas não acredito que isso desmereça a crítica. Ele talvez tenha feito isso com o intuito de ampliar o público e torná-lo mais acessível para aqueles que estão mais imersos nessa lógico mercadológica (os estadunidenses tem o péssimo hábito de evitar filmes que não sejam em inglês). Mas, enfim, essa possível crítica está pautada naquilo que talvez seja o grande embate da história do cinema: a disputa entre aqueles que procuram ocultar os elementos artificiais do cinema contra aqueles que procuram denunciar. Hollywood é grande representante desse primeiro grupo, sem dúvida. Ao se ocultar esses elementos artificias, a ideologia presente no filme passa quase que naturalmente, como se fosse um pedaço da realidade que nós estamos experimentando. A ideologia se esconde atrás da aparêcia e a aparência naturalizada dificilmente é vista como ideológica. Funny Games certamente faz o contrário: ele denuncia esse aspecto de artificialidade. A mensagem de que isso é um filme está lá bastante explícita, vide a cena do controle. E nós somos parte dele. Então ele parece fazer esse jogo duplo: denunciar a violência e denunciar a ficção ao mesmo tempo que retorna a realidade através da quebra da quarta parede e da consideração de que no ficcional o real e o ficcional são ambos reais. Sua colocação de que “no real, o real do ficcional e o ficcional do ficcional são ambos ficcionais” é bastante feliz e intrigante.