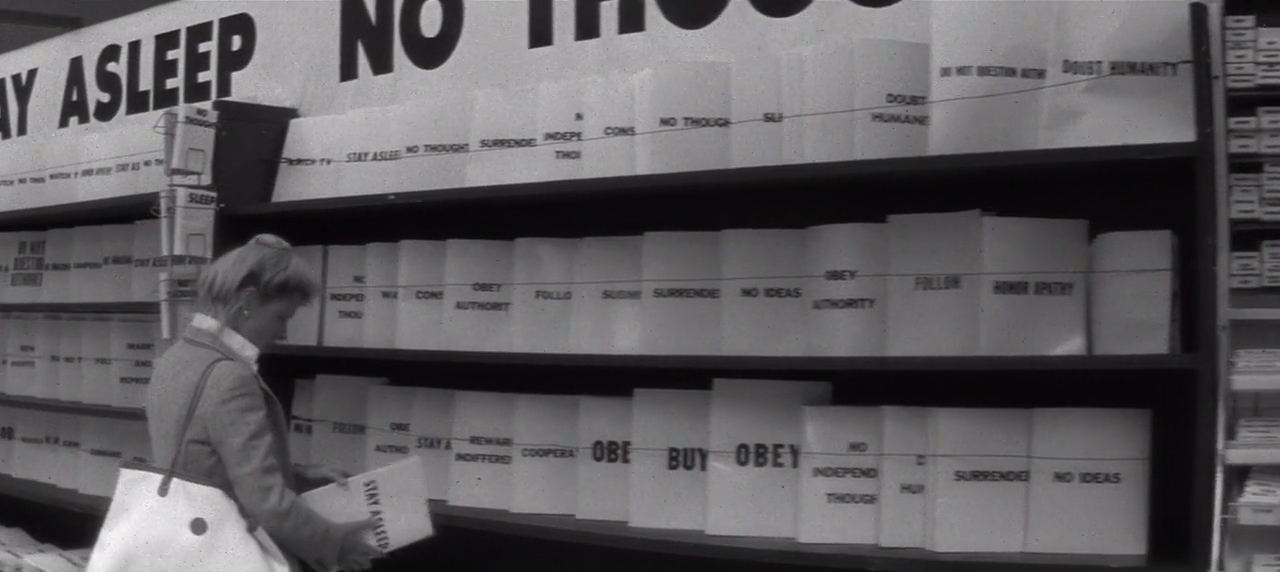Possivelmente Matrix é uma obra com o mesmo ímpeto de Star Wars, esse clássico supremo do pós-modernismo estado-unidense. Isto é, há um esquematismo bastante declarado e aparente, mas que também tem a função de esconder o caráter de pastiche da obra, delegando-o apenas à estrutura. Megazone 23 o precede no quesito “mito da boa caverna”, Neuromancer em “cyberspaço, mundo virtual”, Ghost in the Shell em “fundir-se à tecnologia”, Synners no “derrame avassalador”, que no filme das Wachowsky aparece como uma epidemia de Smiths. Há incontáveis tropos, alguns nem listados aqui (estranhamente, faltam “body surf”, “men in black” e “cool bike”), além de inúmeras outras conexões possíveis com um certo ecumenismo de inclinação espírita (como é característico das diretoras).
Com uma trilha de tecno-world-music, seria o final dos anos 90 também o melhor dos tempos? A boa globalização havia vencido e os diferentes se conciliado, na integração entre orquestra contemporânea, cantochão, batistaca e ragas de um Juno Reactor? Lá, já saberíamos que o inimigo não é o estranho ou surge da concentração de poder, enquanto que as máquinas são aliadas (com ou sem ambivalências); foi por já saber que haveriam consequências, no projeto progressista de expansão urbana, que esperamos por consequências ainda mais catastróficas. Então, nos cercamos de uma normalidade que consideramos ser o melhor possível. E garantimos que essa normalidade seja de fato normal: o realismo capitalista da melhor performance – cena com o Arquiteto: você está no melhor dos mundos, já tentamos outros, mas não dão certo; são improdutivos. Globalização e pastiche. No filme e na ambientação do filme.